



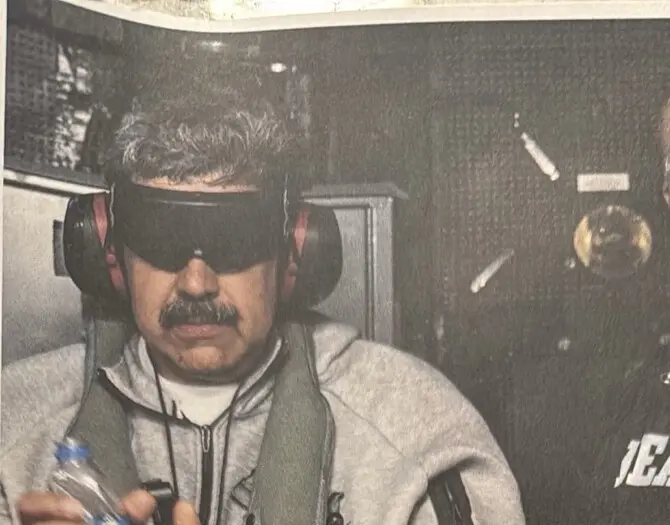
Nos primeiros dias de janeiro de 2026, o mundo assistiu, estupefacto, a uma ação militar inédita na América do Sul: forças armadas dos Estados Unidos realizaram uma operação direta em território venezuelano que resultou na captura do Presidente Nicolás Maduro e de sua esposa. Washington justificou a missão como parte de uma ofensiva contra o “narco-terrorismo” e uma resposta às acusações de tráfico de drogas e ameaça à segurança americana.
No entanto, independentemente das narrativas oficiais, este episódio representa mais do que um simples ato de força executado sob a máscara de legalidade. Trata-se de um tiro em falso — uma intervenção mal calculada que ameaça a estabilidade regional, afronta o direito internacional e expõe limitações estratégicas dos EUA.
Em termos jurídicos, a invasão de um Estado soberano sem mandato do Conselho de Segurança da ONU ou clara justificativa em legítima defesa constitui uma violação gritante das normas internacionais. Especialistas em direito internacional consideram que o uso da força pelos Estados Unidos contra a Venezuela contraria o Artigo 2º(4) da Carta das Nações Unidas, que proíbe a agressão entre nações.
Se Washington quis enviar uma mensagem de poder global, o fez às custas de um precedente perigoso: rebater a soberania alheia pode ser normalizado por potências hegemónicas, especialmente quando estas detêm poder de veto no Conselho de Segurança. Tal facto não só subverte o multilateralismo, como fragiliza instituições criadas para prevenir conflitos.
Os reflexos da operação reverberam muito além das fronteiras de Caracas. Países da região, como Colômbia e Brasil, observam com preocupação uma escalada militar que ameaça arrastar toda a América Latina para um clima de rearmamento e desconfiança. Manifestantes em países vizinhos saíram às ruas em defesa da soberania venezuelana e contra o que percebem como imperialismo americano.
Mais ainda: a intervenção involuntariamente criou um vazio estratégico que pode beneficiar não apenas a Venezuela, mas também actores externos como a China e a Rússia, que mantêm interesses económicos e políticos no país bolivariano. A tentativa americana de expulsar influências exteriores pode, paradoxalmente, solidificá-las se o novo governo venezuelano depender destas alianças para se sustentar.
Por trás dos discursos geopolíticos e das análises estratégicas, há vidas humanas que pagam o preço mais elevado. Relatos de civis e militares venezuelanos mortos durante as operações, incluindo famílias enlutadas, revelam o custo real de um confronto que poderia ter sido evitado através de diplomacia e diálogo.
A crise humanitária na Venezuela já era profunda antes da intervenção — com escassez de energia, medicamentos e migrações massivas — e a militarização apenas agrava estas dores, criando mais deslocados e sofrimento social.
O assalto americano à Venezuela é, ao mesmo tempo, um sintoma e um alerta. Sintoma de uma política externa que recorre à força como primeiro recurso, em vez de explorar todas as vias diplomáticas; e alerta de que intervenções unilaterais dificilmente trazem soluções sustentáveis a crises complexas.
Se o objetivo era a erradicação do narcotráfico ou a libertação de um povo oprimido, esse fim não justifica os meios quando estes desrespeitam a lei internacional e aprofundam divisões regionais.
No fim, o que se tornou claro é que a ação dos Estados Unidos contra a Venezuela não foi um golpe de mestre estratégico — foi um tiro em falso, que pulverizou a estabilidade, alimentou ressentimentos e fragilizou a imagem de um país que ainda se pretende guardião da ordem mundial.